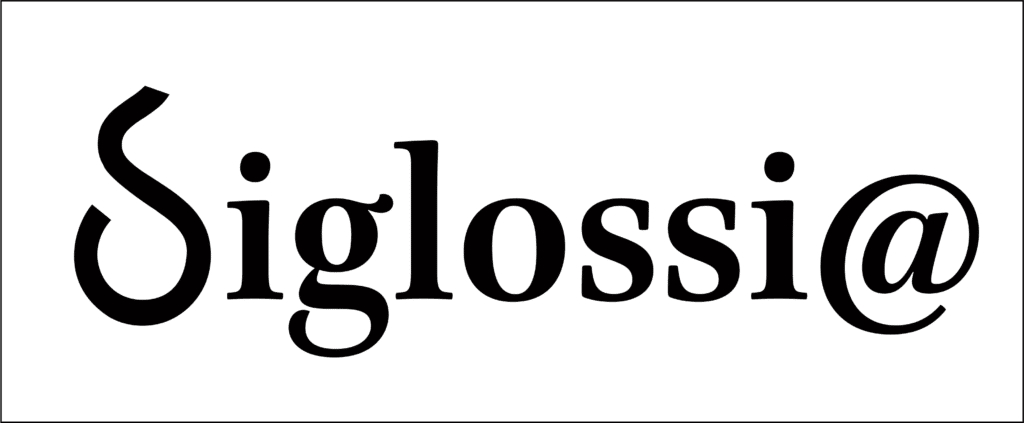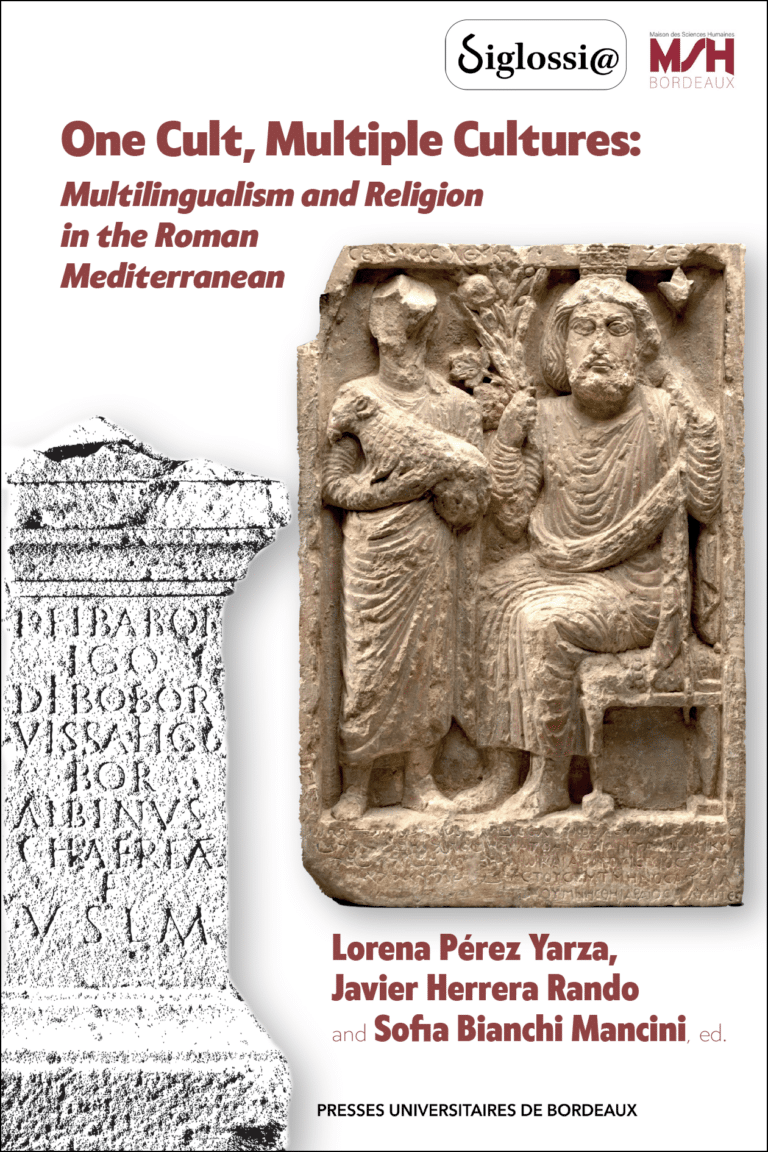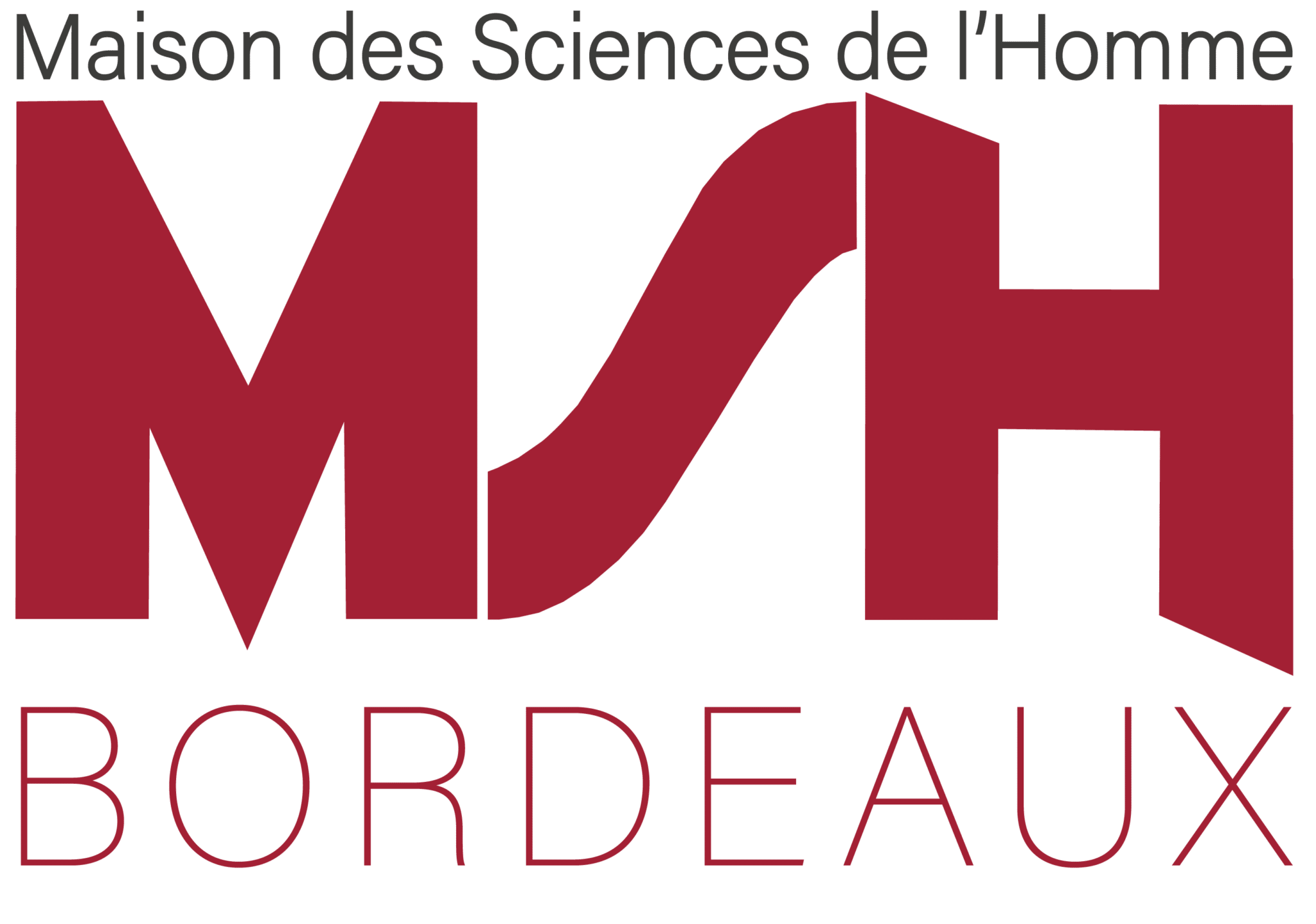Introdução
Um dos contextos territoriais do Ocidente hispânico em que a investigação vem reconhecendo um número elevado de manifestações religiosas de época romana associadas ao culto de divindades autóctones corresponde precisamente ao conuentus Bracaraugustanus, nos confins da prouincia Hispania citerior. Estas manifestações são reconhecíveis basicamente através da epigrafia, tanto procedente de contexto urbano, como rural1.
O objetivo desta abordagem, em linha com os objetivos deste volume tal como delineados na sua Introdução, é rastrear a documentação epigráfica em que se poderá vislumbrar marca do processo de contacto linguístico entre o latim e a língua lusitana2, designadamente ao nível dos teónimos e epítetos de génese nativa, considerando fenómenos de bilinguismo patenteados nas inscrições de época romana3.
É conhecido que as comunidades deste âmbito territorial permaneceram ágrafas até à introdução do alfabeto latino, o que vai de par com o desenvolvimento do hábito epigráfico na região. Os sinais dessas mudanças são mais notórios por volta da mudança da era. Se bem que o contacto com o latim e com o alfabeto latino seja algo anterior4, a consistência do hábito epigráfico, no começo essencialmente vinculado ao mundo urbano, torna-se percetível a partir das últimas décadas do século I a. c., designadamente na sequência da fundação da capital provincial, por volta de 15-13 a. c., aquando do derradeiro regresso de Augusto à Hispânia5.
A língua lusitana apenas se conhece graças a inscrições de época romana. Inclusive as cinco inscrições que se consideram propriamente lusitanas, com textos extensos gravados com alfabeto latino, têm cronologia romana, com a particularidade de se materializarem em suportes rupestres. São as inscrições de Lamas de Moledo (Castro d’Aire), do Cabeço das Fráguas (Sabugal/Guarda), de Assunção (Arronches) e de Arroyo de la Luz I-II e III (Cáceres), que têm sido objeto de reiterada visitação6. Mas para além destes textos fundamentais, há também um conjunto de inscrições com outros estruturalmente latinos que apresentam fenómenos de bilinguismo7. Na realidade, também duas das anteriormente referidas, Lamas de Moledo e Arroyo de la Luz I-II, apresentam alternação linguística (code-switching), mas de natureza inter-oracional, no encabeçamento dos textos em língua paleo-hispânica, ao passo que, nestoutras, essa mudança de código é intra-oracional. A bibliografia sobre o tema elenca pouco mais de 20 inscrições deste tipo, todas elas votivas, com uma distribuição lata no Ocidente hispânico, entre a Galiza e o centro de Portugal8. Entre os exemplos arrolados tomando como guia a lista mais extensa, apenas cincos coincidem com o território bracaraugustano9.
Estes números são suscetíveis de crescimento, não só pelo aparecimento de novos achados, mas também por novos escrutínios entre o material epigráfico já conhecido. Como veremos, um conjunto ainda significativo apresenta elementos que evidenciam fenómenos de alternação linguística, patente, quer em dedicatórias a grandes deidades do Ocidente hispânico, com manifestações em extensas áreas ou regiões (u.g. Bandui/Bandue, Cosu, Crougiai, Munidi), quer a outras de incidência restrita, decerto de âmbito local (u.g. Tongoe Nabiagoi)10.
A identificação deste tipo de ocorrências é fundamental para o entendimento das línguas e/ou dialetos pré-romanos fragmentariamente percecionados, como acontece com o lusitano, e passível de um entendimento sociolinguístico amplo11.
Olhar os contextos e protagonistas destas manifestações é concomitantemente fundamental para uma melhor perceção do panorama epigráfico em causa, pelo que procuraremos igualmente dar atenção à análise do estatuto sociojurídico dos dedicantes, bem como aos suportes (rupestres e altares) eleitos para as perenizar.
Uma particularidade que tem sido apontada pela investigação relativamente a estas inscrições – mistas – em que são detetáveis fenómenos de alternação linguística intra-oracional entre o latim e o lusitano é que tal apenas ocorre no âmbito religioso, essencialmente no contexto de dedicatórias votivas, e não no funerário, estando a perduração ou interferência da língua indígena associada à teonímia12.
Devemos fazer aqui um parêntesis para referir o nome Ablonios, que se conhece num grande contentor cerâmico de Castrejón de Capote, datado dos finais do século II a. c., mas que se vem indicando como de impossível atribuição linguística13. Um outro achado mais recente, uma estela com plausível função funerária da cidade de Viseu, pode transformar este panorama ao registar conteúdo escrito com mistura linguística, incluindo um antropónimo precisamente com a mesma terminação desinencial –os, que se afigura remeter para um fundo autóctone, o qual tanto poderá ser celta ou lusitano, embora, quer a antroponímia, quer a situação geográfica possam sugerir a ligação com o segundo14. Esta inscrição, caso ostente influência da língua lusitana, afastar-se-á das inscrições mistas que têm sido enunciadas, uma vez que um aspeto comum a todas elas é que, sendo de carácter votivo, se encontram em latim os nomes dos dedicantes, seguindo as estruturas onomásticas próprias do seu estatuto jurídico, bem como os formulários habituais deste tipo de inscrições. Parece, assim, estar fora de causa um domínio deficiente da língua latina para justificar este bilinguismo vinculado ao âmbito religioso15, pois ele apenas afeta consistentemente a teonímia e os epítetos teonímicos.
Os teónimos
É ao nível dos nomes das divindades, considerando teónimos propriamente ditos e epítetos, que se desvelam os referidos casos de interferência linguística patentes na epigrafia votiva, seja ela associada a suportes rupestres ou a outros de influência clássica, designadamente altares. Esses mesmos nomes encontram-se grafados em dativo, como seria expectável tratando-se de dedicatórias de caráter religioso (Quadro 1).
Em primeiro lugar, há teónimos patenteados na corrente epigrafia romana que têm relação com os presentes nas inscrições que se reconhecem como de língua lusitana, as quais, como referido, se encontram gravadas com recurso ao alfabeto latino16. Apesar de todas registarem conteúdo de caráter votivo ou sacrificial, a coincidência com divindades documentadas no quadro geográfico que analisamos não é total, mas há interceção com duas delas. Na inscrição de Arronches17 têm registo os teónimos Reue e Bandi e na de Lamas de Moledo18 surge Crouceai, os quais têm claramente testemunho noutros suportes de época romana, nomeadamente em altares votivos, como os do território conventual bracaraugustano.
Há, no contexto brácaro, ainda um outro conjunto de dedicatórias de época romana com elementos teonímicos (teónimos propriamente ditos ou epítetos), já sem distribuição suprarregional no horizonte lusitano-galaico, mas essencialmente local, cuja terminação aponta para morfologia nominal lusitana, em particular para os dativos. Metodologicamente apenas podemos apontar aqueles que mais claramente se podem distinguir da morfologia latina. Na realidade, estando documentados dativos –o e –ae no âmbito do lusitano19, respetivamente nos temas em –o e em –a, não os consideramos neste elenco pela clara impossibilidade de os distinguir da flexão latina desses temas, ainda que na intenção e praxis religiosa coeva possam ter estado igualmente a documentar a língua indígena na esfera do sagrado. A título de exemplo, essa é claramente a situação que proporcionam as diversas epígrafes que ostentam a dedicatória Nabiae, um teónimo com distribuição alargada no Ocidente peninsular, plausivelmente correspondente a um derivado adjetival em *-ya entendível como forma apelativa de uso geral para “vale” e com arreigada presença no território conventual20.
Os teónimos de divindades suprarregionais
Reue
Na laje de Arronches surge a forma teonímica Reue epitetada de Aharacui21. Os linguistas têm olhado para este teónimo como respeitante a uma divindade fluvial, tendo-se mesmo proposto que o seu culto se originaria na Lusitânia e se teria estendido para norte, onde se notam também formas corrompidas do mesmo (Reo, Rego…)22. O grafo final –e não é confundível com uma variante de –ae de um feminino *-a, mas representa um dativo atemático *-ei, sendo o teónimo masculino, que poderá derivar de um antigo apelativo para “rio” procedente provavelmente de *H1reu–23. Segundo F. Villar Liébana24 paulatinamente deixaria de consistir na realidade física para ter um conteúdo meramente teonímico, mas esta nuance, baseada na presença ou ausência de sufixos *-aiko nos epítetos, parece pouco aceitável do ponto de vista linguístico25. Na área bracarense surge essencialmente na sua metade oriental e na forma geminada Reuue, preponderante nesse setor (nºs 19-30), com massiva documentação no contexto da área termal de As Burgas, em Ourense, onde se documentam seis altares (nºs 19-24) dedicados a esta divindade com o epíteto Anabaraego, sendo que só uma vez se grafa com a forma não geminada (n° 19). E estes achados acarretam que a divindade seja também funcionalmente vinculada a contextos hidrotermais26.
Em dois casos também as formas epitéticas conservam terminações que apontam para esta ideia de alternação linguística: Reuue Marandigui (n° 28) e Reuue Laraucu (n° 30). Ambos os epítetos podem ter uma base hidronímica27. O segundo surge na mesma região desassociado do teónimo (n° 31)28, indiciando a importância dos epítetos na definição do alcance desta divindade. Também ambos apresentam, associadas ao sufixo velar *-ko-, terminações temáticas de dativo, –ui / –u, com fecho da vogal larga e no segundo caso com perda do –i.
No respeitante aos dedicantes deste conjunto de altares, verifica-se que não são maioritariamente indivíduos de estatuto peregrino, mas ciues, contando-se também um liberto. A cinco peregrini – Ama Pitili f., Fronto Vaucani f., Nigrinus Nigri, Peregrinus Apri f. e Seuerus Luperci – contrapõem-se um liberto – Quintio Domitiorum l. – e sete indivíduos com cidadania romana – Albinia Albina, Allius Aper, Arruntius Siluanus, C. Faberius Hyametus, T. Flauius Flauinus, Memmius Euaristus e Q(uintus) Per(ennius) Valgi fil. Expressivamente, esta preponderância é igualmente refletida no caso específico das inscrições da área termal de Ourense, na qual se documentam três dos ciues – C. Faberius Hyametus, T. Flauius Flauinus e Memmius Euaristus –, um peregrinus – Seuerus Luperci – e o único libertus – Quintio Domitiorum l. – deste elenco. Alguns dos dedicantes, designadamente associados a esta área termal, ostentam onomástica grega que pode apontar eventuais origens pessoais ou familiares alóctones. Além do mais, esta estância balnear parece ter tido comprovadamente procura externa29.
A estes testemunhos seria de somar um outro não arrolado acerca do qual há dúvidas sobre a sua proveniência, mas sendo talvez atribuível a Rubiana, Barco de Valdeorras, o que o torna já inserível no conuentus Asturum, mas com a particularidade de o dedicante, Afer Albini f., poder corresponder a um emigrado dos Turodi30, pressupondo-se, assim, a sua origem entre os Bracares, o qual dedica precisamente a Reuue Anabaraeco31.
Na parte ocidental, apenas se documenta uma forma Reoue (n° 7), que igualmente aponta para o dativo atemático. O dedicante que lhe está associado é um dos indivíduos de estatuto peregrino, Nigrinus Nigri.
É ainda salientável a muito baixa expressão da representação feminina neste conjunto de registos votivos.
Bandue
A forma teonímica Bandi está, tal como a anterior, presente na inscrição de Arronches32 e tem outros testemunhos em inscrições romanas a sul do Douro. A norte deste, a forma Bandue é a mais comum. Ambas apresentam dativos atemáticos. Para B. M. Prósper33 estas formas procedem de um nome de ação *gwem-tu– “passagem” que se coaduna com a forma de dativo Bandue e variantes. Tanto Bandue como Bandi, Bande e Bandei afiguram-se formas em consoante34, não temáticas, que, assim, não correspondem a femininos em *-a. De acordo com os seus epítetos, está-se perante formas masculinas. A variante Bandue é a que se encontra presente a norte do Douro, mas todas terão origem comum precisamente neste setor e, segundo Prósper35, a partir de um tema em *-u como *bandu-, que sofreu um processo de coalescência nas formas detetadas a sul deste rio. Assim, a forma em questão poderá entender-se como atemática *-ei marcada pela terminação monotongada em –e36. A sua distribuição ocorre na metade nascente do espaço brácaro (n°s 10-16) e estende-se inclusive ao ásture meridional37.
Relativamente aos dedicantes, apenas um – Allus? Reburri fil. – ostenta estatuto peregrino, mostrando, os restantes, cidadania romana, sendo, inclusivamente, dois deles militares – Aemilius Reburrinus, Mont(anius) Monianus, M. Silonius Gal. Silanus (signifer Coh. I Gal. cR), Terentia Rufina e um [— ]cius [—], leg. VII F. Uma das inscrições não conserva este tipo de informação (cf. Quadro 1).
Crougiai
Outro teónimo com atestação nas inscrições da língua lusitana é Crouceai38. Tem, para além do registo na inscrição de Lamas de Moledo, outros em epígrafes romanas, especialmente a norte do Douro. Com dativo –ai encontra-se Crougiai no interior conventual limiano (n° 17) 39e a variante Corougiai (n° 2) na metade ocidental, precedida do atributo domnus.
Ambas as formas teonímicas estão acompanhadas de epítetos também marcados por marcas flexionais lusitanas, ao conservarem, respetivamente, os dativos –oe e –oi, associados às formas Toudadigoe (n° 17) e Vesucoi (n° 2). Segundo Prósper as formas de dativo –ai podem derivar de um substantivo *kroukia, procedendo o teónimo de um apelativo *krouk–o-, –ā, relacionável com o IE *kreuk– “monte, colina”40. Estes epítetos podem apontar derivados adjetivais de elementos (hidro-) toponímicos masculinos41.
É de sublinhar que os dedicantes são uma mulher com cidadania romana – Rufonia Seuer[a] –, na inscrição do interior bracaraugustano, e um plausível escravo – Arcuius –, na outra. É interessante o facto de o texto da dedicatória do altar levantado por este indivíduo terminar com uma referência a serui que, como já escrevemos noutro lugar42, se pauta pela ambiguidade, ao poder referir-se expressamente a indivíduos de condição servil, juridicamente falando, ou ter um sentido indireto, decorrente de influência cristã ou de outra esfera religiosa de carácter salvífico.
Cusu / Cosu
As formas teonímicas Cusu (n° 3) e, possivelmente, Cosu (n° 5) são referentes a outra divindade suprarregional com presença simultânea nos territórios calaico e lusitano. São relacionáveis com as formas atemáticas Cossue, Cosei, Cusei e Cusue, mas de difícil explicação, uma vez que, segundo a investigação se poderia pensar numa flexão temática com desinência celtizante, com fecho de /o:/>/u:/ ou uma forma abreviada sem a terminação atemática –e43, como se verificará com Bandu Vordeaico de Seixo de Ansiães. Indicamos, assim, ambas as formas com esta reserva.
A dedicatória tirsense a Cusu Nemedeco afigura-se protagonizada por um Seuerus, de estatuto servil44, tal como a anteriormente referida e a hipoteticamente referente a Cosu Vea(co), associada a um penedo, será resultante de um ato comunitário45.
| Nº | Texto | Dedicante(s) | Formulário(s) | Datação | Localização | Bibliografia |
| Metade Ocidental | ||||||
| 1 | Fuscin / us Fusci / d(e—?) d(omin—?) n(ostr—?) / Abne // m(erito) / l(ibens) a(ram) / p(osuit) | peregrinus, ♂ | m. l. a. p. | 131-230 | Campo (S. Martinho), Santo Tirso | RAP, 1; CECBpo, 1 |
| 2 | Arcuius / aram pos[u]/it pro uot / o domno / Corougiai / Vesucoi / seruis (h)ic / et ubicue / terrarum | seruus, ♂ | aram posuit | 175-250 | Minhotães, Barcelos | RAP, 61; CECBpo, 12 (Vallejo Ruiz, 2013, n°17) |
| 3 | Deo d / omen/o Cusu / Nemed /eco ex / uoto // Seue/rus p /osui / t | seruus, ♂ | ex uoto posuit | 131-200 | Burgães, Santo Tirso | CIL II, 2375 e 5552; RAP, 50; CECBpo 13 |
| 4 | Frouida / sacrum / Maternus / Flacci / ex uisu / u(otum) s(oluit) l(ibens) m(erito) | peregrinus, ♂ | sacrum / u. s. l. m. | 71-230 | Braga, Braga | RAP, 149; CECBpo, 18 |
| 5 | Munidi / Fiduenearum / hic / l(ibauerunt?) // Cosu Veae(co)? / hi[c] s(oluerunt?) | coletivos não expressos | hic l. / hic s. | 51-100 | Sanfins de Ferreira, Paços de Ferreira | CIL II, 5607; RAP, 468; CECBpo, 19 |
| 6 | Muni[di —?] / Amia [— | ind., ♀ | 1-270 | Lagares, Felgeiras | CIL II, 2409f; RAP, p. 532; CECBpo, 20 | |
| 7 | Reoue / Vadumic(o) / Nigrinus / Nigri f(ilius) / u(otum) s(oluit) l(ibens) m(erito) | peregrinus, ♂ | u. s. l. m. | 101-200 | Silvares, Lousada | CECBpo, 33 |
| 8 | Tongoe / Nabiagoi // Celicus / fecit // Fron[to] | ciuis, ♂ | fecit | 1-51 | Braga, Braga | CIL II, 2419 e supl., p. 900; RAP, 174; CECBpo, 40 (Vallejo Ruiz, 2013, n°10) |
| 9 | C(aius) S(—) F(—) / Valmu / lu l(ibens) s(oluit?) p(osuitque?) | ciuis, ♂ | l. s. p. | 131-230 | Avioso, Maia | RAP, 599; CECBpo, 41 |
| Metade Oriental | ||||||
| 10 | Allus? / Reburri / fil(ilus) Band[u]/e Paeico / u(otum) s(oluit) l(ibens) m(erito) | peregrinus, ♂ | u. s. l. m. | 1-100 | Ribeira de Pena, Ribeira de Pena | RAP, 18; Aquae Flauiae2, 117 |
| 11 | Bandue V /erubric[o] / Mont(anius) Mon /ianus co/nsacrau[it] / ex uoto | ciuis, ♂ | consacrauit ex uoto | 131-250 | Arcucelos, Laza, Ourense | IRG IV, 88; Aquae Flauiae2, 118 |
| 12 | Deo vexillo(rum) / Martis socio / Bandue [— | ind., ind. | 101-170 | Rairiz de Veiga, Ourense | CIL II, 215*; IRG IV, 90; Aquae Flauiae2, 119; HEp 12, 2002, 359 | |
| 13 | Bandue / Alanob/ricae Ae/milius Re/burrinus | ciuis, ♂ | 101-170 | Eiras, San Amaro, Ourense | IRG IV, p. 92; Aquae Flauiae2, 120 | |
| 14 | Bandue / Cadiego / Ter[enti]a / Rufina / u(otum) l(ibens) m(erito) s(oluit) | ciuis, ♀ | u. l. m. s. | Mixós, Monterrei, Ourense | IRG IV, 88; Aquae Flauiae2, 121 | |
| 15 | V(otum) s(oluit) l(ibens) m(erito) / Bandue / Veigebr/eaego / M(arcus) Siloni/us Ga(leria) Si/lanus / sig(nifer) coh(ortis) I / Gal(icae) c(iuium) R(omanorum) | ciuis, ♂ | u. s. l. m. | 1-170 | Rairiz de Veiga, Ourense | IRG IV, 85; Aquae Flauiae2, 122 |
| 16 | [— ]cius / [—le]g(ionis) VII F(elicis) Ba/ndue Ae/tobr/igo / u(otum) l(ibens) a(nimo) s(oluit) | ciuis, ♂ | u. l. a. s. | 75-190 | Codesedo, Sareaus, Ourense | CIL II, 2515; IRG IV, 90; Aquae Flauiae2, 123 |
| 17 | Crougiai / Touda/digoe / Rufonia / Seuer[a] / [— | ciuis, ♀ | 1-300 | Mosteiro de Ribera, Xinzo de Limia, Ourense | CIL II, 2565; IRG IV, 94; Aquae Flauiae2, 98 (Vallejo Ruiz, 2013, n°18) | |
| 18 | Deibabo / Nemucel/aegabo / Fuscinus / Fusci f(ilius) / u(otum) l(ibens) a(nimo) s(oluit) | peregrinus, ♂ | u. l. a. s. | 100-170 | Avelelas, Águas Frias, Chaves | RAP, 58; Aquae Flauiae2, 94 (Vallejo Ruiz, 2013, n°7) |
| 19 | Reue / Ana/bara/ego [— | ind., ind. | 51-130 | Ourense, Ourense | HEp 7, 1997, 528; HEp 11, 2001, 342; AE 2017, +717 | |
| 20 | Reuue / Anabara/ego / Seuerus Lu/perci / u(otum) s(oluit) l(ibens) a(nimo) | peregrinus,♂ | u. s. l. a. | 51-130 | Ourense, Ourense | AE 2014, 674; HEp 2014/15, 496; AE 2020, +391 |
| 21 | Reuue / Anabar(aego) / Quintio / Domiti/orum l(ibertus) / u(otum) s(oluit) l(ibens) m(erito) | libertus, ♂ | u. s. l. m. | 51-130 | Ourense, Ourense | HEp 14, 2005, 233; HEp 18, 2009, 265; AE 2009, 594; AE 2017, +717; AE 2020, +391 |
| 22 | Reuue / Anabar(aego) / C(aius) Faberius / Hyametus / u(otum) s(oluit) l(ibens) m(erito) | ciuis, ♂ | u. s. l. m. | 51-130 | Ourense, Ourense | HEp 18, 2009, 266; AE 2009, 595; AE 2020, +391 |
| 23 | Reuue An/abaraego / T(itus) Flauius / Flauinus | ciuis, ♂ | 71-130 | Ourense, Ourense | HEp 18, 2009, 267; AE 2009, 596; AE 2020, +391 | |
| 24 | Reuue An(abaraego) / Memmius / Evaristus / u(otum) s(oluit) l(ibens) m(erito) | ciuis, ♂ | u. s. l. m. | 101-130 | Ourense, Ourense | AE 2014, 675; HEp 2014/15, 497; AE 2020, +391 |
| 25 | Reuue / Reumira[e]/go Fronto / Vaucani f(ilius) u(otum) l(ibens) / m(erito) s(oluit) | peregrinus,♂ | u. l. m. s. | 101-200 | Florderrei Vello, Vilardevós, Ourense | Aquae Flauiae2, 113 |
| 26 | Peregrinus / Apri f(ilius) Reue / Veisuto | peregrinus,♂ | 1-100 | Mosteiro de Ribeira, Xinzo de Limia, Ourense | IRG IV, 96; Aquae Flauiae2, 114 | |
| 27 | Reue A/badaego Ar[r]/untius / Silvan/us u(otum) s(oluit) l(ibens) / m(erito) | ciuis, ♂ | u. s. l. m. | 131-250 | Ind., A Limia, Ourense | Aquae Flauiae2, 115; HEp 7, 1997, 501; HEp 14, 2005, 230 |
| 28 | Reue Ma/randigui / Al{·}binia / Al{·}bi{·}na / a(nimo) l(ibens) u(otum) s(oluit) | ciuis, ♀ | a. l. u. s. | 51-150 | Vale de Nogueiras, Vila Real | HEp 6, 1996, 1079 + HEp 9, 1999, 763; Redentor 2013, p. 229 (Vallejo Ruiz, 2013, n°22) |
| 29 | Q. Per(ennius) V/algi fil(ius) / Reue Te/idigo s(oluit) / u(otum) l(ibens) m(erito) | ciuis, ♂ | s. u. l. m. | 1-50 | Castromao, Celanova, Ourense | AE 1991, 1041; HEp 4, 1994, 577; HEp 7, 1997, 494; HEp 18, 2009, 264; Aquae Flauiae2, 116 |
| 30 | Reue / Larauc/u Allius / Aper ex / uoto | ciuis, ♂ | ex uoto | 101-200 | Baltar, Xinzo de Limia, Ourense | IRG IV, 94; Aquae Flauiae2, 128 |
| 31 | Larocu / Ama Pitil/i filia libe(ns) / animo uo/tum retuli(t) / pro marito su(o) | peregrinus, ♀ | libe. animo uotum retuli(t) pro marito su(o) | 70-130 | Curral de Vacas, Monforte, Chaves | RAP, 161; Aquae Flauiae2, 126 |
Casos singulares
Para além dos registos mistos referentes às grandes divindades, há outras dedicatórias votivas que registam mudança linguística ainda que associadas a numes com atestação singular e que passamos a identificar.
É o caso da singular forma Abne que se regista em altar de Santo Tirso (n° 1) e que não pode confundir-se com Nabiae46. Parece tratar-se de um dativo de tema em consoante *abnei como equaciona B. M. Prósper Pérez47. Assim, esta mesma autora propõe que a forma *Abnis, a que retroage aquele dativo, se relacione com a raiz *ab– “água”, considerando a divindade como fluvial, sendo aquela forma em lusitano a palavra para “rio”, que concebe divinizado48. A única dedicatória que invoca este teónimo é levada a cabo por um peregrino – Fuscinus Fusci.
Tongoe Nabiagoi apresenta terminações temáticas de tema em *-oi-, ainda que com variação gráfica no morfema de dativo entre o teónimo e o seu qualificativo49. O teónimo poderá enraizar-se em *teng– “molhar, humedecer”, segundo B. M. Prósper Pérez50, que reputa que o seu derivado temático será um nome de objeto como zona húmida, laguna, marisma ou pântano; também observa que o epíteto poderá entender-se como derivado com sufixo velar a partir de Nabia enquanto apelativo com significado de “vale”. Não parece admissível a interpretação como duas divindades distintas51. O seu culto está documentado no chamado santuário da Fonte do Ídolo (n° 8), em Bracara Augusta52. A este espaço está vinculado Caelicus Fronto, responsável pela sua monumentalização em época augustana e tendo o mesmo ficado sob responsabilidade dos seus descendentes53.
O teónimo Munidi é relacionável com a raiz *men-, *mon– “cabeça, monte” e representa uma formação *mon-id– com desinência de dativo feminino atemático54. Está patente em inscrições rupestres: em Sanfins associado ao determinativo Fiduenearum (n° 5) e em Lagares, Felgueiras, em texto incompleto (n° 6). No primeiro caso afigura-se uma dedicatória comunitária cujo coletivo não se encontra expresso55, estando no segundo ligada a uma mulher cuja incompletude da nomenclatura não permite discernir o seu estatuto jurídico.
A forma Frouida tem-se considerado corresponder a teónimo lusitano não acompanhado de epíteto56, conformando um dativo em –a, conforme proposta de M. L. Albertos Firmat57, que também sugeriu a sua relação com a raiz indo-europeia *sreu– ‘correr, fluir’58, em concreto com o derivado *sru-ti-, entendendo-a relacionada com uma divindade fluvial. A inscrição (n° 4) documentada em Braga encontra-se desaparecida, mas não há indícios para se considerar duvidosa a leitura realizada por P. Caldas59, a qual aponta para uma dedicatória realizada ex uisu por parte de um peregrino – Maternus Flacci.
Por último, fazemos referência à forma Valmulu. A sua leitura a partir de um altar de São Pedro de Avioso (n° 9) tem oscilado, tendo sido propostas as alternativas Valmui e Valani, mas sem apoio no registo epigrafado. A forma é de difícil explicação, quiçá de base toponímica60, e, à semelhança de Cusu, suprarreferido, poderia apresentar desinência de dativo temático *-oi com fecho da vogal larga e perda do *-i ou uma forma abreviada sem a terminação atemática –e. A dedicatória realiza-se por parte de indivíduo com tria nomina, se deste modo interpretarmos a sequência de três abreviaturas – C(aius) S(—) F(—) – que abre o texto.
Um único caso de dativo plural
Na parte oriental do território brácaro, na região flaviense, poderá encontrar-se o único registo da desinência do dativo plural de tema em *-a– conhecido neste âmbito geográfico e associado à linguagem religiosa. A dedicatória plural deibabo Nemucelaegabo realizada por um indígena livre – Fuscinus Fusci f. – aponta para divindades femininas identificadas por forma epitética com sufixo *-aiko-. De acordo com Vallejo e Gorrochategui61, a forma de dativo plural –obo pode acusar perda do –s final, aspeto que equacionam caraterístico do lusitano. Relativamente a formas sem –s dos dativos de plural em –bo / –bu, consideram que a sua originária desinência *-bhos poderá ter sofrido influência pela desinência de instrumental *-bhi e que as formas em -bor documentadas por um altar viseense62 poderiam estar a refletir um passo intermédio desse processo de desaparecimento. Mas não é, todavia, consensual que se esteja perante formas lusitanas, pois tem-se igualmente proposto ligação ao celta hispânico ocidental63.
Suportes
No Ocidente brácaro há apenas três dedicatórias em suporte rupestre que registam situações de bilinguismo. As restantes inscrições correspondem a altares. É este um tipo claramente romano de estrutura tripartida em base, corpo e coroamento, com variações ao nível das molduragens e também na estruturação dos cimácios, que estão muito dependentes do trabalho de oficinais locais. A sua disseminação torna-o quase como uma regra material na linguagem religiosa durante a época romana.
Das inscrições rupestres, uma corresponde à dedicatória Tongoe Nabiagoi do conhecido santuário da Fonte do Ídolo (n° 8), com localização na periferia do núcleo urbano de Bracara Augusta, a capital conventual. Este espaço, enquadrável em época augustana e com posterior reformulação no final do século I, é entendível como um ex-voto monumental, notabilizado pela sua plástica. Tem esta, como elementos estruturantes, uma figura estante com cornucópia relacionável com a deusa indígena Nabiae e nicho com busto, que a inscrição que diretamente se lhe associa parece ligar ao dedicante, tendo no frontão representação de ave e de maço, eventualmente significando ex-votos concretos64.
Outra (n° 6) inexiste hoje, havendo tão-só relato da sua natureza rupestre e do caráter fruste da gravação transmitido no século XVIII, sendo certo que, no final do seguinte, os penedos do monte Pegas onde se localizava já não puderam ser identificados65.
A terceira regista duas menções a deidades e corresponde à igualmente bem notória inscrição rupestre de Sanfins, designada de Penedo das Ninfas (n° 5). A sua interpretação tem estado sujeita a oscilações, em boa medida devido ao inusitado número de nexos das inscrições de ambos os lados do penedo. Sendo a sua função terminal, está provida de conteúdo religioso, patenteado pela dedicatória Munidi66 e por uma outra na face oposta, tradicionalmente tida como visando Cosuneae67. Não obstante, considerando a documentação das formas Cusu68 e Cosu69 na região, propusemos70 que a sequência de nexos possa ser dividida em Cosu Veae(co). Embora reconhecendo que uma interpretação deste tipo pode ter o inconveniente, pelo menos aparente, de ambos os elementos estarem ligados pelas extremidades das respetivas letras final e inicial, não sabemos até que ponto esta evidência atual respeita a gravação original, pois o que observamos é uma diferença nítida na profundidade dos sulcos das hastes em questão, sendo a da esquerda claramente mais vincada. A datação destes registos é um exercício delicado, uma vez que praticamente só a paleografia pode ser chamada para este propósito. Tradicionalmente tem-lhes sido apontada uma cronologia tardia, inclusivamente medieval, mas cremos que nada obsta a uma datação ainda na primeira centúria. Do ponto de vista paleográfico, são notórias algumas parecenças ao nível do uso dos nexos com a inscrição de Lamas de Moledo71, inclusive ao nível do ductus de alguns caracteres, pelo que consideramos acertada uma revisão em baixa da datação deste monumento, admitindo o seu acantonamento ainda no século I d. c.
Das inscrições do interior conventual, nenhuma consta corresponder a suporte rupestre72. As de paradeiro conhecido são altares e é bem possível que as desaparecidas (nºs 10, 12, 16 e 17) também tivessem correspondido a este tipo comum de suporte, considerando os textos e as referências dos contextos de achado.
Este é o panorama que se desprende da documentação arqueológico-epigráfica no respeitante aos fenómenos de alternação linguística, mas importa perceber o fenómeno em função dos seus protagonistas, isto é, os dedicantes das inscrições, e da sua implantação cronológica, tal como já iniciámos com o enquadramento das inscrições rupestres supracitadas.
Tempo e os protagonistas
Do ponto de vista cronológico, verifica-se que este fenómeno do bilinguismo não parece encontrar-se confinado a uma fase temporã do domínio romano e que perdurará no tempo. As dificuldades de datação das inscrições no Noroeste são consabidas e o caso referido do Penedo da Ninfas, pese embora a sua natureza rupestre, é disso ilustrativo. Mas a questão é transversal aos restantes tipos de suportes epigráficos. A natureza granítica da maioria dificulta hoje leituras escorreitas e também amiúde colocou desafios aos lapicidas de antanho.
Os textos são normalmente muito curtos – alguns chegam-nos inclusivamente incompletos – e os critérios de datação internos são por vezes escassos, importando dar atenção a alguns externos como o contexto arqueológico, o formato dos suportes e a paleografia, que por si só não oferece total fiabilidade.
Não obstante estas dificuldades, não podemos deixar de propor cronologias dentro de balizas mais ou menos extensas (Quadro 1). As inscrições em análise são todas de época imperial, particularidade que condiz com a cronologia do desenvolvimento do hábito epigráfico na região.
Um dos aspetos mais destacável é que apenas um número reduzido de inscrições poderá ser atribuído exclusivamente ao século I, sendo notória uma concentração desses testemunhos em faixas cronológicas maioritariamente coincidentes com o final do século e com o II, ainda que também pelo menos um caso possa alcançar o século III.
Falamos, neste caso, da ara de Minhotães com a dedicatória domn[o] Corougiai Vesucoi que será mais tardia, atendendo a uma datação que assenta no seu conteúdo textual e particularmente no facto de o texto incluir a designação domno associada à epiclese. A versão sincopada de dominus ou domina, ocorrendo no latim vulgar, torna-se mais corrente no latim tardio, tendo uma extraordinária representação epigráfica em época severiana por via das inscrições que visam a imperatriz Iulia Domna. Será também de acrescentar que o título de dominus associado às nomenclaturas imperiais se deteta na epigrafia viária regional a partir dos meados do século III73. São circunstâncias que concitam privilegiar, ainda que com alguma tibieza, uma cronologia em torno do período severiano.
Estes dados não deixam de ser coincidentes com o que conhecemos do desenvolvimento do hábito epigráfico em geral no contexto do império, mas chamam sobretudo a atenção de que este fenómeno, referente às interferências linguísticas, é relativamente persistente.
O modo de os lermos tem a ver com a sociologia das religiões, em que aspetos próprios da conceção religiosa são resistentes à mudança, talvez mais do que os da ritualização, aonde percebemos que, maioritariamente, a adoção do altar como estratégia comprovativa do cumprimento de votos é a regra, pois, como vimos, apenas temos três testemunhos de utilização de suportes rupestres.
A dimensão social dos intervenientes (Lista 1 e Quadro 1) dos atos votivos é também de equacionar no âmbito da questão do bilinguismo e, nestes casos em concreto, da permanência destas formas associadas à teonímia em geral. Ocorre perguntar, logo à partida, se tal apenas sucede no seio da população peregrina, presumivelmente sobretudo autóctone, ou noutros âmbitos sociojurídicos.
Na metade ocidental do conuentus registam-se três peregrini contra dois ciues e dois escravos. Há uma inscrição incompleta que não permite esta avaliação e uma outra – o Penedo das Ninfas – que poderá remeter para coletivos não expressos, como referimos. Entre os ciues, um tem origem exterior à região: no santuário da Fonte do Ídolo, Caelicus Fronto define-se como Arcobrigensis, possivelmente mesetenho, se não lusitano74. Do ponto de vista sociojurídico afigura-se uma situação de relativo equilíbrio, mas o cenário na parte oriental é distinto.
Maioritariamente, identificam-se inscrições relacionadas com o culto de Reuue (13) e Bandue (sete) e os dedicantes são fundamentalmente cidadãos romanos. No culto de Reuue há sete ciues, quatro peregrini, um liberto (possivelmente de cidadãos romanos), bem como um caso em que a inscrição não conserva informação atinente a intervenientes. No de Bandue, o cenário é análogo: cinco ciues, um peregrinus e um indeterminado por incompletude da inscrição, mas que poderá relacionar-se com outra do mesmo local e, deste modo, associar-se também ao cidadão M. Silonius Silanus. Entre estes, pelo menos dois testemunhos reportam a militares: é o caso deste último e do dedicante a Bandue Aetobrigo (n ºs 12 e 16). A inscrição com a dedicatória Crougiai (n° 17) é levada a cabo por um cidadão; e a que visa divindades plurais (n° 18), por um peregrino.
Em síntese, destacam-se os dedicantes de estatuto quiritário em face dos peregrini, acrescendo um liberto, dois escravos e três casos claramente indeterminados por incompletude dos registos. Como referimos antes, há ainda a possibilidade de um Turodus estar deslocado em paragem já integrada no conuentus Asturum, sendo de estatuto peregrino.
Se analisarmos sumariamente a onomástica de um ponto de vista linguístico, não é difícil perceber que, esmagadoramente, estes protagonistas utilizam nomes latinos, independentemente do estatuto jurídico de cada personagem.
A situação dos dedicantes peregrinos é extremamente elucidativa numa perspetiva de se equacionar o bilinguismo muito associado a setores conservadores, inclusive do ponto de vista da onomástica pessoal. A realidade é que, entre os nove peregrini, apenas dois apresentam idiónimo indígena, em ambos os casos associados a patronímicos também de origem indígena. Para além destes dois casos de adoção de onomástica vernácula, apenas há mais uma situação em que ela aparece ligada a um patronímico. Nas restantes sete estruturas onomásticas há exclusividade de onomástica latina.
É legítimo perguntar se a cronologia das estruturas onomásticas com antroponímia indígena é a mais antiga. Efetivamente, os casos em questão de idiónimo e patronímico vernáculos associam-se a epígrafes que se afiguram das mais precoces deste rol, mas há outros registos, igualmente datáveis do século I, em que a onomástica é latina.
No respeitante às estruturas onomásticas duo e trinominais referentes a indivíduos com estatuto quiritário, o panorama antroponímico é ainda mais distintamente latino. Analisando as 13 estruturas onomásticas (em 15) que permitem este tipo de avaliação, verifica-se que apenas se discerne um cognome e um gentilício indígenas, este associado à família relacionada com a monumentalização do santuário da Fonte do Ídolo, a qual, como já referimos, é plausivelmente exterior ao território conventual. Todavia, estamos, neste caso concreto, em face de registo vinculado a um contexto arqueológico de inícios do século I, ao passo que a outra nomenclatura, duonominal, com cognome indígena é datável do seguinte.
Quanto aos três dedicantes que não integramos entre os ingenui, há apenas a assinalar um idiónimo indígena.
1.1: Peregrini
Allus? Reburri fil., (i+ patron. i) [Bandue Paeico], 10
Ama Pitili filia, (i+ patron. i) [Larocu], 31
Fronto Vaucani f., (l+ patron. i) [Reuue Reumiraego], 25
Fuscinus Fusci, (l+ patron. l) [Abne], 1
Fuscinus Fusci f., (l+ patron. l) [Deibabo Nemucelaegabo], 18
Maternus Flacci, (l+ patron. l) [Frouida], 4
Nigrinus Nigri, (l+ patron. l) [Reoue Vadumico], 7
Peregrinus Apri f., (l+ patron. l) [Reue Veisuto], 26
Seuerus Luperci, (l+ patron. l) [Reuue Anabaraego], 20
1.2: Ciues
Aemilius Reburrinus, (l+i) [Bandue Alanobricae], 13
Albinia Albina, (l+l) [Reue Marandigui], 28
Allius Aper, (l+l) [Reue Laraucu], 30
Arruntius Siluanus, (l+l) [Reue Abadaego], 27
Celicus Fronto, (i+l) [Tongoe Nabiagoi], 8
C. Faberius Hyametus, (l+g) [Reuue Anabaraego], 22
T. Flauius Flauinus, (l+l) [Reuue Anabaraego], 23
Memmius Euaristus, (l+g) [Reuue Anabaraego], 24
Mont(anius) Monianus, (l+l) [Bandue Verubrico], 11
Q. Per(ennius) Valgi fil., (l+ patron. l.) [Reue Teidigo], 29
C(aius) S(—) F(—), (?+?) [Valmulu], 9
M. Silonius Gal. Silanus, signifer Coh. I Gal. cR, (l+l) [Bandue Veigebreaego], 15
Rufonia Seuera, (l+l) [Crougiai Toudadigoe], 17
Terentia Rufina, (l+l) [Bandue Cadiego], 14
[— ]cius [—], leg. VII F., (?+?) [Bandue Aetobrigo], 16
1.3: LibertiQuintio Domitiorum l., (l+libert. l.) [Reuue Anabaraego], 21
1.4: Serui
Arcuius, (i) [Corougiae Vesucoi], 2
Seuerus, (l) [Cusu Nemedeco], 3
1.5: Indeterminados
Amia, (i) [Munidi], 6
coletivo [Cosu Veaeco], 5
coletivo [Munidi], 5
?, (?) [Bandue], 12
?, (?) [Reue], 19
Deste panorama sucintamente analisado é muitíssimo interessante verificar que a questão do bilinguismo não se encontra acompanhada de um conservadorismo onomástico ao nível da antroponímia, como patenteiam as estruturas onomásticas arroladas.
Em termos de género, a mulher encontra-se pouco representada, ela que é, por exemplo, habitual guardiã da onomástica pessoal indígena. Na parte ocidental do conuentus, apenas um caso parece apontar para uma mulher, Amia [—] (n° 6). Na oriental, a situação é diferente, mas somente quatro mulheres estão representadas em 20 inscrições em que é possível identificar dedicantes, uma delas peregrina, Ama Pitili filia (n° 31), intervindo em voto em favor do seu marido, tendo estatuto privilegiado as restantes (n°s 14, 17, 28). Mas o panorama da sub-representação epigráfica da mulher é um dado conhecido em geral e está bem patente na análise que fizemos para o Ocidente brácaro75.
Uma outra constatação que se desprende do conjunto epigráfico é que maioritariamente não tem relação com espaços urbanos, tirando os casos do santuário peri-urbano de Bracara Augusta e o de outra inscrição associada à cidade (n° 4). As restantes manifestações epigráficas estão relacionadas com ambientes rurais, com a exceção das vinculadas (n ºs 19-24) à área balneatória de Orense, uma vez que esta parece integrar um aglomerado secundário médio de configuração proto-urbana, com características termais e viárias76.
Formulários
Tal como se observa com as estruturas onomásticas dos dedicantes, os formulários das inscrições que recenseamos são claramente latinos e apontam o carácter votivo da maioria das inscrições (Quadro 1). De um modo geral, com recurso a formas verbais concretas (soluo, pono, facio e refero) dão nota do cumprimento de uota, tal como a indicação especifica de realização de uma consagração com esta causa, adiante elencada.
Destaca-se a fórmula uotum soluit libens merito (n ºs 4, 7, 10, 15, 21, 22, 24, 27), que se regista oito vezes, sendo que acrescem as variantes uotum libens merito soluit (n° 14, 25) e soluit uotum libens merito (n° 29).
Outra fórmula bem representada é uotum libens animo soluit (n ºs 16, 18), com as variantes uotum soluit libens animo (n° 20) e animo libens uotum soluit (n° 28). Mais excêntrica, também por especificar o objetivo da dedicatória, é libens animo uotum retuli(t) pro marito su(o) (n° 36).
Menos correntes são as fórmulas merito libens animo posuit (n° 1) e libens soluit posuitque (n° 9), bem como aram posuit (n° 2) e ex uoto posuit (n° 3). Num caso apenas de observa ex uoto (n° 30), noutro fecit (n° 8).
É excecional o registo das formulações associadas ao Penedo das Ninfas (n° 5), sem dedicantes ou intervenientes expressos por apontarem para o caráter sagrado e plausivelmente liminar do local, associando o advérbio hic a presumíveis formas verbais indicativas de um cumprimento ritual, quiçá de realização periódica, isto é, renovando o ato original que o texto pereniza: hic libauerunt (?) // hi[c] soluerunt (?).
Considerações Finais
O panorama traçado permite perspetivar de modo mais inteligível a importância da língua e dos processos linguísticos na conformação das realidades socio-religiosas e das identidades.
No conjunto de inscrições de carácter religioso apresentado, apenas os teónimos e/ou epítetos referentes a numes indígenas conservam vestígios flexionais da língua pré-romana, sendo que toda a restante estrutura textual, incluindo a identificação dos dedicantes e os formulários, se regista com exatidão na língua latina, evidenciando, inclusive, um claro entrosamento com as particularidades do hábito epigráfico quando estes últimos surgem sob a forma de siglas ou de abreviaturas77. Esta alternação entre o uso da língua que se vem designando de lusitano na morfologia teonímica e o latim para o restante texto é também particularmente significativa porque é algo pouco documentado no Ocidente mediterrânico para lá da fachada occídua hispânica78.
Como vimos, os casos que se vêm arrolando associados ao lusitano, para além das cinco inscrições fundamentais, são pouco mais de uma vintena79. O presente estudo amplia estes números, sobretudo pela consideração dos teónimos presentes em inscrições dedicadas a grandes divindades como Reuue, Bandue ou Crougiai, cuja filiação com o substrato linguístico lusitano é evidente, mas também por outros casos singulares que se afiguram enquadráveis no mesmo âmbito linguístico.
Em tese, a alternação linguística detetada nas inscrições mistas poderia ter tido também origem em fenómenos de retenção num meio falante da língua latina e, em especial num ambiente religioso/cultual, em que, tal com Adam80 propõe, o lapicida (ou inclusive o encomendante) não estaria ainda psicologicamente capaz para olhar determinados elementos como traduzíveis numa outra língua, neste caso concreto as referências teonímicas e epitéticas. Mas possivelmente esta inibição não seria, no caso de estudo que apresentamos, exclusiva de um indivíduo, mas comunitária e de laivos identitários, inserível, assim, num espectro mais vasto.
Se as inscrições elencadas não são todas elas dos primórdios ou meados do século I, cronologia mais consentânea com uma fase inicial do contacto linguístico em redor da viragem da era81, isso não quererá dizer que esse contacto não tivesse persistido ao longo de gerações, designadamente no âmbito da comunicação com as divindades, pelo que, ao acontecer num plano temporal mais dilatado, também se distanciará dessa potencial possibilidade de retenção inicial. A manutenção da língua indígena até, pelo menos, ao século IIe, eventualmente, até um pouco mais tarde82, é admissível e atendível num território hispânico que foi de tardia integração administrativa relativamente aos demais.
O conjunto das inscrições parece evidenciar que o fenómeno de alternação linguística é claramente pretendido, resultando necessariamente em demonstração de partilha e afirmação cultural, mas não de resistência identitária, sendo decerto mais do que uma cristalização originada em fases precoces do contacto e remanescente no âmbito da utilização regional da nova língua ao nível escrito.
A explicação da língua pré-romana como procura de garantia de eficácia do ritual, empregue numa espécie de temor relativamente a uma possível debilitação, é entendível no caso das inscrições propriamente lusitanas com texto mais largo, nos quais parecem apontar-se cerimónias coletivas com componente sacrificial83. Nas que nos ocupam, com textos mistos em que a língua vernácula se utiliza exclusivamente ao nível das epicleses84, essa ideia de procura de eficácia poderá estar igualmente subjacente, como se a latinização teonímica pudesse de algum modo perturbar a essência e identidade85 das entidades divinas. Nesta perspetiva também se afigura particularmente significativo que o teónimo que se considera rematar a inscrição do Penedo de Remeseiros se apresente precisamente com o dativo pré-romano86.
Em síntese, a realidade é que se verifica uma tendência para a perduração de elementos flexionais do lusitano no âmbito da epigrafia romana87, precisamente na que se vincula ao sagrado, como se o divino implicasse uma intemporalidade materializável numa permanência teonímica quase imudável. Afigura-se, assim, esta persistência da alternação linguística como uma mostra de conservadorismo funcional na esfera da religiosidade.
Abreviaturas
| AE | L’Année épigraphique. |
| Aquae Flauiae2 | = Rodríguez Colmenero 1997. |
| BDHesp | Banco de Datos de Lenguas Paleohispánicas Hesperia. Base epigráfica de Lusitano, [online] http://hesperia.ucm.es/consulta_hesperia/acceso_lusitano.php. |
| CECBpo | = Redentor 2017a, vol. II. |
| CIL II | = Hübner 1869; 1892. |
| HEp | Hispania Epigraphica. |
| IEW | Pokorny 1959. |
| IRG IV | = Lorenzo Fenández et al. 1968. |
| MLH IV | = Untermann 1997. |
| RAP | = Garcia 1991. |
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra – Centro de Estudos Interdisciplinares (CEIS20) / Universidade de Coimbra, redentor@uc.pt, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6459-3285. Este trabalho foi desenvolvido no âmbito do projeto «Aut oppressi serviunt II: las formas no coercitivas de transformación indígena (s. iv a.C. – s. i d.C.)» (PID2020-117370GB-I00) financiado pelo Ministerio de Ciencia e Innovación.
Bibliographie
Abascal Palazón, J. M. (1995): “Las inscripciones latinas de Santa Lucía del Trampal (Alcuéscar, Cáceres) y el culto de Ataecina en Hispania”, Archivo Español de Arqueología, 68, 31-105, [online] https://aespa.revistas.csic.es/index.php/aespa/article/view/396/403 [consultado em 05/06/2025].
Adams, J. N. (2003): Bilingualism and the Latin language, Cambridge.
Albertos Firmat, M. L. (1952): “Nuevas divinidades de la antigua Hispania”, Zephyrus, 3, 49-63, [online] https://revistas.usal.es/uno/index.php/0514-7336/article/view/835/1010 [consultado em 05/06/2025].
Beltrán Lloris, F. (2011): “Lengua e identidad en la Hispania romana”, Palaeohispanica, 11, 19-59, [online] https://doi.org/10.36707/palaeohispanica.v0i11.75 [consultado em 05/06/2025].
Beltrán Lloris, F. e Estarán Tolosa, M. J. (2011): “Comunicación epigráfica e inscripciones bilingües en la península Ibérica”, in: Ruiz-Darasse, C. e Luján Martínez, E., ed. Contacts linguistiques dans l’Occident méditerranéen antique, Collection de la Casa de Velázquez 126, Madrid, 9-25.
Búa, C. (2000): Estudio lingüístico de la teonimia lusitano-gallega, tesis doctoral, Universidad de Salamanca.
Búa, C. (2018): Toponimia prelatina de Galicia, Verba Anexo 78, Santiago de Compostela.
Caldas, J. J. S. P. (1885): “Lápide romana (inédita)”, Alvorada, 1/3 (1 Ago.), 18-19.
Cardim-Ribeiro, J. (2010): “Algumas considerações sobre a inscrição em ‘Lusitano’ descoberta em Arronches (Portugal)”, Palaeohispanica, 10, 41-62, [online] https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/30/23/04cardimribeiro.pdf [consultado em 05/06/2025].
Cardim-Ribeiro, J. e Pires, H. (2021): “Da fixação textual das inscrições lusitanas de Lamas de Moledo, Cabeço das Fráguas e Arronches: o contributo do Modelo de Resíduo Morfológico (MRM), seus resultados e principais consequências interpretativas”, Palaeohispanica, 21, 301-352, [online] https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/39/22/17CARDIM_PIRES.pdf. [consultado em 05/06/2025].
Centeno, R. M. S. (1987): Circulação monetária no Noroeste de Hispânia até 192, Porto..
Chaniotis, A. (2006): “Epiclesis”, in: Brill’s New Pauly Online, Leiden, [online] https://doi.org/10.1163/1574-9347_bnp_e332430[consultado em 06/03/2024].
De Hoz Bravo, J. (2013): “La epigrafía lusitana y la intersección de religión y lenga como marcador identitário”, Revista da Faculdade de Letras. Ciências e Técnicas do Património, 12, 87-98, [online] https://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/11790.pdf [consultado em 05/06/2025].
De Tord Basterra, G. (2024): Epigrafia religiosa en lenguas locales del Occidente Mediteráneo, Ciencias sociales 178, Saragoça.
Dias, M. M. A e Santos, M. J. C. (2017): “The gods that never were: new readings of the inscriptions of Penedo de Remeseiros (CIL II 2476), Penedo das Ninfas (CIL II 5607), Cueva del Valle (CIL II2.7 932) and Castro Daire (CIL II 5247)” in: Häussler, R. e King, A. C., ed. Celtic religions in the Roman period: personal, local, and global, Celtic Studies Publications 20, Aberystwyth, 273-286.
Dopico Caínzos, D. e Pereira Menaut, G. (1993): “La gran inscripción de Remeseiros (CIL II 2476): sobre la forma jurídica de tenencia de la tierra entre los indigenas bajo dominio romano”, in: II Congreso peninsular de História antiga: Coimbra, 18 a 20 de outubro de 1990: actas, Coimbra, 633-641.
Dupraz, E. e Sowa, W., ed. (2015): Genres épigraphiques et langues d’attestation fragmentaire dans l’espace méditerranéen, Cahiers de l’ÉRIAC 9, Mont-Saint-Aignan.
Encarnação, J. d’ (2019): “O bilinguismo epigráfico, manifestação político-cultural”, in: González, M. C., Ciprés, P., Ortiz de Urbina, E. e Cruz, G., ed. A verbis ad scripta: studia epigraphica et historica: homenaje a Juan Santos Yanguas, Anejos de Veleia, Series Minor 36, Vitoria, 79-95, [online] https://estudogeral.uc.pt/bitstream/10316/87661/1/O%20bilinguismo%20epigr%C3%A1fico%2C%20manifesta%C3%A7%C3%A3o%20pol%C3%ADtico-cultural.pdf [consultado em 05/06/2025].
Encarnação, J. d’ e Guerra, A. (2010): “The current state of research on local deities in Portugal”, in: Arenas Esteban, J. A., ed. Celtic Religion across Space and Time. IX Workshop F.E.R.C.AN., Actas, Toledo, 95-112, [online] https://eg-fr.uc.pt/bitstream/10316/13814/1/The%20current%20state%20of%20research%20on%20local%20deities%20in%20Portugal.pdf [consultado em 05/06/2025].
Estarán Tolosa, M. J. (2016): Epigrafía bilingüe del Occidente romano: el latín y las lenguas locales en las inscripciones bilingües y mixtas, Ciencias sociales 116, Saragoça.
Estarán Tolosa, M. J. (2019): “Deibabor igo deibobor Vissaieigobor: notas para el estudio de la retención lingüistica en la epigrafía religiosa de la Lusitania romana”, in: Tomás García, J. e del Prete, V., ed. Imágenes, lengua y creencias en Lusitania romana, Oxford, 54-72, [online] https://www.jstor.org/stable/j.ctv1zckz60.7 [consultado em 05/06/2025].
Fernandes, L. S., Sobral Carvalho, P. e Figueira, N. (2008): “Uma nova ara votiva de Viseu (Beira Alta, Portugal)”, Sylloge Epigraphica Barcinonensis, 6, 185-189, [online] https://www.raco.cat/index.php/SEBarc/article/viewFile/208250/277435 [consultado em 05/06/2025].
Garcia, J. M (1991): Religiões antigas de Portugal: aditamentos e observações às “Religiões da Lusitânia” de J. Leite de Vasconcelos, fontes epigráficas, Temas portugueses, Lisboa.
Garrido Elena, A., Mar, R. e Martins, M. (2008): A Fonte do Ídolo: análise, interpretação e reconstituição do santuário, Bracara Augusta: escavações arqueológicas 4, Braga.
Gorrochategui Churruca, J. e Vallejo Ruiz, J. M. (2010): “Lengua y onomástica: las inscripciones lusitanas”, Iberografias, 6, 71-80.
Gorrochategui Churruca, J. e Vallejo Ruiz, J. M. (2015): “Langues fragmentaires et aires onomasiques: le cas de la Lusitanie et de l’Aquitanie”, in: Dupraz, E. e Sowa, W., ed. Genres épigraphiques et langues d’attestation fragmentaire dans l’espace méditerranéen, Cahiers de l’ÉRIAC 9, Mont-Saint-Aignan, 337-356.
Guerra, A. (2020): “A diversidade linguística da Hispânia pré-romana”, in: Brandão, J. L. e Oliveira, F., ed. História de Roma Antiga, vol. II: Império e Romanidade hispânica, Ensino, Coimbra, [online] 435-452, https://doi.org/10.14195/978-989-26-1782-4_18 [consultado em 05/06/2025].
Hübner, E. (1869): Inscriptiones Hispaniae Latinae, Berlim.
Hübner, E. (1892): Inscriptiones Hispaniae Latinae: supplementum, Berlim.
Le Roux, P. e Tranoy, A. (1973): “Rome et les indigènes dans le Nord-Ouest de la péninsule Ibérique: problèmes d’épigraphie et d’histoire”, Mélanges de la Casa de Velázquez, 9, 177-231, [online] https://www.persee.fr/doc/casa_0076-230x_1973_num_9_1_1077 [consultado em 05/06/2025].
Lorenzo Fernández, J., Ors, A. d’ e Bouza Brey, F., ed. (1968): Inscripciones romanas de Galicia, vol. IV: provincia de Orense, Santiago de Compostela.
Luján Martínez, E. R. (2019): “Language and writing among the Lusitanians”, in: Velaza, J. e Sinner, A., ed. Palaeohispanic Languages and Epigraphies, Oxford, 304-334, [online] https://doi.org/10.1093/oso/9780198790822.003.0011 [consultado em 05/06/2025].
Marco Simón, F. M. (2005): “Religion and Religious Practices of the Ancient Celts of the Iberian Peninsula”, e-Keltoi: Journal of Interdisciplinary Celtic Studies, 6, article 6, [online] https://dc.uwm.edu/ekeltoi/vol6/iss1/6 [consultado em 05/06/2025].
Melena Jiménez, J. L. (1984): “Una ara votiva romana en el Gaitán, Cáceres”, Veleia, 1, 233-259, [online] https://ojs.ehu.eus/index.php/Veleia/article/view/24281/21532 [consultado em 05/06/2025].
Mullen, A. (2012): “Multiple languages, multiple identities”, en: Mullen, A. e James, P., ed. Multilingualism in the Graeco-Roman Worlds, Oxford, 1-35, [online] https://doi.org/10.1017/CBO9781139012775.002 [consultado em 05/06/2025].
Olivares Pedreño, J. C. (2000): “Los dioses indigenas en el Noroeste de Portugal”, Conimbriga, 39, 53-83, [online] https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/131624/1/Olivares_2000_Conimbriga.pdf [consultado em 05/06/2025].
Olivares Pedreño, J. C. (2002): Los dioses de la Hispania céltica, Bibliotheca archaeologica Hispana 15, Madrid.
Pedrero Sancho, R. M. (1999): “Aproximación lingüistica al teónimo lusitano-gallego Bandue/Bandi”, in: Villar Liébana, F. e Beltrán Lloris, F., ed. Pueblos, lenguas y escrituras en la Hispania prerromana: VII Coloquio sobre lenguas y culturas paleohispánicas (Zaragoza, 1997), Acta Salmanticensia: Estudios filológicos 273, Salamanca, 535-543.
Pérez Losada, F. (2002): Entre a cidade e a aldea: estudio arqueohistórico dos aglomerados secundarios romanos en Galicia, Brigantium 13, Corunha.
Pires, H., Fonte, J., Gonçalves-Seco, L., Santos, M. J. C., e Sousa, O. (2014): “Morphological residual model: A tool for enhancing epigraphic readings of highly erosioned surfaces”, in: Orlandi, S., Santucci, R., Casarosa, V. e Liuzzo, P. M., ed. Information Technologies for Epigraphy and Digital Cultural Heritage: Proceedings of the First EAGLE International Conference, Roma, 133-144, [online] https://www.eagle-network.eu/wp-content/uploads/2015/01/Paris-Conference-Proceedings.pdf [consultado em 05/06/2025].
Pokorny, J. (1959): Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, Berna-Munique.
Prósper Pérez, B. M. (1997a): “El nombre de la diosa lusitana Nabia y el problema del betacismo en las lenguas indígenas del Occidente Peninsular”, ’Ilu, 2, 141-149, [online] https://revistas.ucm.es/index.php/ILUR/article/view/ILUR9797110141A [consultado em 05/06/2025].
Prósper Pérez, B. M. (1997b): “Tongoe Nabiagoi: la lengua lusitana en la inscripción bracarense del ídolo de la fuente”, Veleia, 14, 163-176, [online] https://ojs.ehu.eus/index.php/Veleia/article/view/24520/21760 [consultado em 05/06/2025].
Prósper Pérez, B. M. (2002): Lenguas y religiones prerromanas del occidente de la Península Ibérica, Acta salmanticensia: estudios filológicos 295, Salamanca.
Prósper Pérez, B. M. (2009): “Reve Anabaraeco, divinidad acuática de las Burgas (Orense)”, Palaeohispanica, 9, 203-214, [online] https://ifc-ojs.es/index.php/palaeohispanica/article/view/224/186 [consultado em 05/06/2025].
Prósper Pérez, B. M. (2010): “La lengua lusitana en el marco de las lenguas indoeuropeas occidentales y su relación con las lenguas itálicas”, in: Carrasco, G. e Oliva, J. C., ed. El Mediterráneo antiguo: lenguas y escrituras, Coediciones/Universidad de Castilla-La Mancha Campus de Cuenca 92, Cuenca, 361-391.
Prósper Pérez, B. M. (2011): “The instrumental case in the thematic noun inflection of Continental Celtic”, Historische Sprachforschung/Historical Linguistics, 124, 250-267, [online] https://www.jstor.org/stable/41553575 [consultado em 05/06/2025].
Prósper Pérez, B. M. e Villar Liébana F. (2009): “Nueva inscripción lusitana procedente de Portalegre”, Emerita, 77/1, 1-32, [online] https://doi.org/10.3989/emerita.2009.v77.i1.304 [consultado em 05/06/2025].
Redentor, A. (2013): “Testemunhos de Revve no Ocidente brácaro”, Palaeohispanica, 13, 219-235, [online] https://ifc-ojs.es/index.php/palaeohispanica/article/view/162/141 [consultado em 05/06/2025].
Redentor, A. (2017a): A cultura epigráfica no conuentus Bracaraugustanus (pars occidentalis): percursos pela sociedade brácara da época romana (2 vols.), Coimbra, [online] https://doi.org/10.14195/978-989-26-1270-6 e https://doi.org/10.14195/978-989-26-1441-0 [consultado em 05/06/2025].
Redentor, A. (2017b): “Práticas epigráficas e termalismo terapêutico no Noroeste da Hispânia na época romana”, in: Matilla Séiquer, G. e González Soutelo, S., ed. Termalismo antiguo en Hispania: un análisis del tejido balneario en época romana y tardorromana en la Península Ibérica, Anejos de archivo español de arqueología 78, Madrid, 467-483.
Redentor, A. (2019): “Observações sobre turismo balneatório no Ocidente hispano-romano”, Mátria XXI, 8, 373-400.
Redentor, A. (2021): “Paisicaicoi: uma deidade na bruma caramulana”, Em Memória do Professor Doutor Joaquim Veríssimo Serrão: Herança Cultural e Património, Mátria XXI: número especial evocativo, 229-254.
Redentor, A., Carvalho, P. C., Carvalho, P. S. e de Fátima Beja e Costa, M. (2023): “Um suporte de época romana epigrafado e decorado com temática marcial em Viseu (Portugal)”, Archivo Español de Arqueología, 96, 1-16, [online] https://aespa.revistas.csic.es/index.php/aespa/article/view/692/823 [consultado em 05/06/2025].
Rodríguez Colmenero, A. (1997): Aquae Flaviae, vol. I: Fontes epigráficas da Gallaecia meridional interior, Chaves.
Rodríguez Colmenero, A. (2010): “El dios Dancerus de la Cañada de Remeseiros (Vilar de Perdizes, Montalegre, Portugal), un Silvano indígena protector de los contratos de arrendamento”, Palaeohispanica 10, 133-146, [online] https://ifc-ojs.es/index.php/palaeohispanica/article/view/97/22 [consultado em 05/06/2025].
Rodríguez Colmenero, A., Ferrer Sierra, S. e Álvarez Asorey, R. D. (2004): Miliarios e outras inscricións viarias romanas do Noroeste hispánico: conventos bracarense, lucense y asturicense, Callaeciae et Asturiae itinera Romana, Santiago de Compostela.
Sánchez Natalías, C. (2016): “Epigrafía pública y defixiones: paradigmas (y paradojas) del Occidente Latino”, Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis 52, 69-77, [online] https://ojs.lib.unideb.hu/classica/article/view/7827/7168 [consultado em 05/06/2025].
Santos, M. J. C., Sousa, O., Pires, H., Fonte, J. e Gonçalves-Seco, L. (2010): “Travelling back in Time to Recapture Old Texts: The use of Morphological Residual Model (M.R.M.) for epigraphic reading: four case studies (CIL 02, 02395a, CIL 02, 02395c, CIL 02, 02476, CIL 02, 05607)” in: Orlandi, S., Santucci, R., Casarosa, V. e Liuzzo, P. M., ed. Information Technologies for Epigraphy and Digital Cultural Heritage: Proceedings of the First EAGLE International Conference, Studi umanistici, collana convegni 26, Roma, 437-454, [online] https://www.eagle-network.eu/wp-content/uploads/2015/01/Paris-Conference-Proceedings.pdf [consultado em 05/06/2025].
Sarmento, F. M. (1884): “Materiais para a archeologia do concelho de Guimarães”, Revista de Guimarães, 1(4), 161-189, [online] https://www.csarmento.uminho.pt/site/s/rgmr/item/53366#?c=0&m=0&s=0&cv=0 [consultado em 05/06/2025].
Simón Cornago, I. (2019): “La paleografía y datación de la inscripción lusitana de Lamas de Moledo”, Mélanges de la Casa de Velázquez, 49(1), 159-184, [online] https://journals.openedition.org/mcv/9762 [consultado em 05/06/2025].
Stifter, D. (2017): “Lusitanian”, in: Klein J., Joseph, B. e Fritz, M., ed. Handbook of comparative and historical Indo-European linguistics: an international handbook, Handbucher zur sprach- und kommunikationswissenschaft 41.3, Berlim-Boston, 1857-1862.
Tranoy, A. (1980): “Religion et société à Bracara Augusta (Braga) au Haut-Empire Romain”, in: Actas do Seminário de Arqueologia do Noroeste peninsular (Guimarães, 1979), vol. 3, Guimarães, 67-83.
Untermann, J. [1966-1967] (1985): “Los teónimos de la región lusitano-gallega como fuente de las lenguas indígenas”, in: de Hoz Bravo, J., ed. Actas del III Coloquio sobre Lenguas y Culturas Paleohispánicas. Lisboa, 5-8 noviembre 1980, Acta salmanticensia: Estudos filológicos 170, Salamanca, 343-363.
Untermann, J. (1997): Monumenta linguarum Hispanicarum, vol. IV: Die tartessischen, keltiberischen und lusitanischen Inschriften, Wiesbaden.
Vallejo Ruiz, J. M. (2013): “Hacia una definición del lusitano”, Palaeohispanica, 13 (= Acta Palaeohispanica XI: Actas del XI Coloquio Internacional de Lenguas y Culturas Prerromanas de la Península Ibérica. Valencia, 24-27 de octubre de 2012), 273-291, [online] https://www.ifc-ojs.es/index.php/palaeohispanica/article/view/165/145 [consultado em 05/06/2025].
Villar Liébana, F. (1996): “El teónimo Reue y sus epítetos”, in: Meid, W. e Anreiter, P., ed. Die grösseren altkeltischen Sprachdenkmäler, Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft 95, Innsbruck.
Villar Liébana, F. e Pedrero Sancho R. M. (2001): “La nueva inscripción lusitana: Arroyo de la Luz III”, in: Villar Liébana, F. e Fernández Alvárez, M. P., ed. Religión, lengua y cultura prerromanas de Hispania, Acta salmanticensia: Estudos filológicos 283, Salamanca, 663-698.
Witczak, K. T. (1999): “On the Indo-European Origin of Two Lusitanian Theonyms (Laebo and Reve)”, Emerita 67(1), 65-73, [online] https://doi.org/10.3989/emerita.1999.v67.i1.185 [consultado em 05/06/2025].
Wodtko, D. (2017): Lusitano: lengua, escritura, epigrafia, AELAW booklet 4, Saragoça.
Yaeger-Dror, M. (2015): “Religious choice, religious commitment, and linguistic variation”, Language & Communication, 42(2), 69-74, [online] https://doi.org/10.1016/j.langcom.2014.12.005
Notes
- Cf., entre outros, Olivares Pedreño 2000 e Marco Simón 2005, para uma perspetiva abrangente, sem prejuízo de outros estudos geograficamente mais focados como, por exemplo Encarnação & Guerra 2010, Redentor 2017a. Do ponto da abordagem linguística à teonímia, Búa 2000; Prósper Pérez 2002.
- Para uma síntese de conhecimentos adquiridos acerca do Lusitano, vid. Stifter 2017; Wodtko 2017; Luján Martínez 2019.
- Como introdução geral ao assunto na Península Ibérica, Beltrán Lloris & Estarán Tolosa 2011. Vid. também o contributo de J. Herrera Rando neste mesmo volume.
- Verosimilmente, a circulação monetária precede a introdução do hábito epigráfico, ainda que também ela tardia ao situar-se nos finais da época republicana e ao generalizar-se com Augusto. Sobre o tema, Centeno 1987, 187-207, apontando c. 49-28 a. c. como o período em que a circulação da moeda dá os primeiros passos no Noroeste hispânico.
- Redentor 2017a, 50 e 103-109.
- Remetemos para Luján Mártínez 2019 e De Tord Basterra 2024, dois dos trabalhos mais recentes que recolhem estes textos, com a bibliografia atinente.
- Designação de Mullen 2012. Adams 2003 inclui este tipo de textos em duas categorias que classifica como textos com linguagem mista e textos que refletem implicitamente fenómenos de bilinguismo.
- Cf. estudos de Gorrochategui Churruca & Vallejo Ruiz 2010, 71-80 e 2015, 351; Vallejo Ruiz 2013, bem como de Estarán Tolosa 2016, 249-281; 2019, 60-62; este último trabalho contabiliza 21 inscrições mistas. Uma introdução aos problemas destas inscrições pode também ser vista no capítulo de J. Herrera Rando neste mesmo volume.
- Inscrições de Águas Frias, Chaves (Vallejo Ruiz 2013, n° 7); santuário da Fonte do Ídolo, Braga (Vallejo Ruiz 2013, n° 10); Minhotães, Barcelos (Vallejo Ruiz 2013, n° 17); Mosteiro de Ribera, Xinzo de Limia (Vallejo Ruiz 2013, n° 18); Vale de Nogueiras, Vila Real (Vallejo Ruiz, 2013, n° 22). Cf. Quadro 1.
- Esta situação não é exclusiva do contexto geográfico bracaraugustano, mas será comum a áreas mais vastas do Ocidente hispânico. A título de mero exemplo, e pelo facto de termos recentemente retomado o seu estudo, podemos referir, para o centro de Portugal, o caso da inscrição rupestre caramulana, localizada no município de Vouzela, com a dedicatória Paisicaicoi (Redentor 2021).
- Yaeger-Dror 2015, sublinhando a religião como variável sociolinguística e a ideia de que as variáveis geolinguísticas influenciam as escolhas religioso-linguísticas.
- Vallejo Ruiz 2013, 27; Estarán Tolosa 2019, 59.
- De Hoz Bravo 2013.
- A novel inscrição gravada está sobre uma estela com representação de guerreiro, tendo sido dada a conhecer por Redentor et al.. 2023.
- Estarán Tolosa 2019, 63.
- As inscrições que a investigação vem considerando como lusitanas são as seguintes: Arroyo de la Luz I-II, Cáceres [MLH IV, L.01.01; Prósper Pérez 2002, 69-83; Luján Martínez 2019, 330-331; BDHesp. CC.03.01]; Arroyo de la Luz III, Cáceres [Villar Liébana & Pedrero Sancho 2001; Prósper Pérez 2002, 83-87; Luján Martínez 2019, 329; BDHesp. CC.03.02]; Lamas de Moledo, Castro de Aire, Viseu [MLH IV, L.02.01; Prósper Pérez 2002, 57-68; Luján Martínez 2019, 331; BDHesp. VIS.01.01]; Cabeço das Fráguas, Pousafoles do Bispo, Sabugal, Guarda [MLH IV, L.03.01; Prósper Pérez 2002, 41-56; Luján Martínez 2019, 329; BDHesp. GUA.01.01]; Arronches, Portalegre [MLH IV, L.01.01; Prósper Pérez & Villar Liébana 2009; Luján Martínez 2019, 332; BDHesp. POA.01.01].
- A transcrição (apud Luján Martínez 2019, 332) é a seguinte: [—]AM OILAM ERBAM[—] / HARASE OILA X BROENEIAE H[—] / OILA X REVE A HARACVI T{.}AV[RO?] / IFATE X BANDI HARACVI AV[—] / MVNITIE CARLA CANTIBIDONE + / [—] / APINVS VENDICVS ERIACAINV[S] / OVGV++NI / ICCINVI PANDITI ATTEDIA M TR / PVMPI CANTI AILATIO.
- A transcrição (apud Luján Martínez 2019, 331) é a seguinte: RVFINVS ET / TIRO SCRIP/SERVNT / VEAMNICORI / DOENTI / ANGOM / LAMATICOM / CROVCEAI MAGA/REAICOI PETRANIOI T/ADOM PORGOM IOVEA / CAELOBRIGOI.
- Com respeito à morfologia do lusitano, podem confrontar-se sínteses de Prósper Pérez 2011 e de Luján Martínez 2019.
- Cf. Prósper Pérez 1997a; 2002, 189-195. Para uma atualização da sua ocorrência no Ocidente bracaraugustano, Redentor 2017a, I, e 603-608 e 704-708, bem como 692-704, com a discussão de plausíveis locais de culto.
- Vid. n° 8. A transcrição em causa recolhe a leitura A(—) . Haracui, tal como propõem Cardim-Ribeiro & Pires 2021, 325-326, mas julgamos não estar inequivocamente comprovada a evidência de se tratar de um ponto e ser mais provável a leitura Aharacui, equivalente a Haracui, como demonstrado por Villar Liébana & Prósper Pérez 2009, 7, com a economia de uma abreviatura inusitada que dificilmente se esperaria associar-se a um epíteto latino como A(ugusto) em proposta de Cardim-Ribeiro 2010, 48-49 e 54. A este propósito, as anotações de E. Paredes Martín podem ser vistas no capítulo anterior.
- Prósper Pérez 2002, 144-145. Também Redentor 2017a, 593-594, no que ao Ocidente brácaro respeita.
- Cf. Villar Liébana 1996, trabalho fundamental dedicado a este teónimo e seus epítetos, onde apresenta a interpretação de divindade hidronímica. Também Prósper Pérez 2002, 141.
- Villar Liébana 1996.
- Prósper Pérez 2002, 143.
- Prósper Pérez 2009, 212; Redentor 2013, 223-224; Redentor 2017b, 471.
- Cf. Villar Liébana 1994-1995, propondo originar-se o primeiro em *Maranti-; e Prósper Pérez 2002, 129-130 e 131, considerando *Lar-auo-, -a como hidrónimo e que o topónimo de Larouco seria originalmente o território do rio Laraua).
- À semelhança da primeira forma epitética, que se tem arrolado como exemplo de morfologia lusitana (cf. Vallejo Ruiz 2013), também esta segunda se tem admitido como lusitana (cf. Untermann 1985, 355; Witczack 1999, 71).
- Redentor 2019, 383-384.
- Ptol., Geog. 2.6.40. Tranoy 1981, 62-63, estabelece a sua equivalência com os Aquiflauienses.
- CIL II, 685 (= IRG IV 98; Aquae Flauiae2, 102).
- Vid. n. 18.
- Prósper Pérez 2002, 272.
- Pedrero Sancho 1999. Sobre a variação das terminações em –e, –ei e –i nos diferentes testemunhos deste teónimo, vid. Prósper Pérez & Villar Liébana 2009, 12.
- Prósper Pérez 2002, 268-269.
- Prósper Pérez 2002, 272-273.
- Cf. Redentor 2008, com referência a testemunhos de Cova de Lua, Bragança e Seixo de Ansiães, Carrazeda de Ansiães. Na metade ocidental do conuentus Bracaraugustanus, regista-se a forma Bandui (RAP, 12 e CECBpo, 7) que por proximidade geográfica e razões paleográficas propomos poder ter ocorrência noutra inscrição (AE 1993, 1023; CECBpo, 6), não sendo possível assegurar que nestes casos se esteja perante resultado de uma eventual tematização ou de uma latinização. Vid. também Búa 2018, 40, a propósito da dedicatória estremenha Bandi Malumrico.
- Vid. n. 19.
- Não é seguro que uma inscrição, uma tabella ahenea, desaparecida de Viana del Bolo (CIL II, 2523; Aquae Flauiae2, 103; Prósper Pérez 2002, 183) possa ter registado uma forma Crugia, mas tal é admissível. Porém, este território das terras de O Bolo ficaria já em âmbito territorial ásture, apesar de muito próximo da linha de demarcação de ambas circunscrições.
- Prósper Pérez 2002, 185-186.
- Prósper Pérez 2002, 183.
- Redentor 2017a, 621.
- Prósper Pérez 2002, 236.
- Redentor 2017a, 612-613. Apesar de não o especificar, a identificação uninominal foi assim por nós interpretada considerando outro altar (RAP, 51; CECBpo, 14) plausivelmente dedicado à mesma deidade (apenas invocada pela epiclese Nenedec[o]) e pelo mesmo indivíduo, que aí se identifica indubitavelmente como Seuerus Saturnini s.
- Redentor 2017a, 608 e 618-619.
- Cf. proposta de Abascal Palazón 1995, 86, com esta orientação interpretativa.
- Prósper Pérez 2002, 95-96.
- Prósper Pérez 2002, 96-97.
- Prósper Pérez 1997b; 2002, 155-161.
- Prósper Pérez 1997b; 2002, 161-166.
- V. g. Tranoy 1980, 76-78; Melena Jiménez 1984, 242.
- Garrido Elena et al. 2008; Redentor 2017a, 694-704.
- Redentor 2017a, 202-203 e 696.
- Prósper Pérez 2002, 189; Villar Liébana & Prósper Pérez 2009, 15-17, aproximando este dativo atemático de MVNITIE presente na inscrição de Arronches.
- Redentor 2017a, 608 e 614-619.
- De Hoz Bravo 2013, 90.
- Albertos Firmat 1952, 55-56.
- IEW, 1003
- Caldas 1885.
- Sugestão que remonta a Le Roux & Tranoy 1973, 214, interpretando o teónimo como Valmui ou Valani.
- Gorrochategui Churruca & Vallejo Ruiz 2010, 74-75.
- Fernandes et al. 2008; HEp 17, 2008, 255.
- Prósper Pérez 2011, 256-257.
- Redentor 2017a, 703.
- Sarmento 1884, 181.
- Esta leitura tem-se vindo a tornar a mais consensual para a sequência de nexos da face nascente.
- Encarnação & Guerra 2010, 110.
- CECBpo, 13 (= n° 3).
- AquaeFlauiae2, 176, em Viana do Bolo, Ourense.
- Redentor 2017a, I, 615-619.
- Sobre a sua datação, vid. a abordagem recente de Simón Cornago 2019.
- Não incluímos neste estudo a inscrição conhecida como Penedo de Remeseiros (CIL II, 2476), Vilar de Perdizes, Montalegre, considerando a necessidade de um estudo mais aturado do texto no seu todo e o facto de parecer escapar a uma natureza estritamente votiva; a par de uma finalidade jurídica, é plausível que contenha uma defixio com vista à manutenção da propriedade em regime de locatio-conductio por parte do peregrinus interveniente, Allius Reburri, que terminará com uma forma teonímica, conforme expressam Dopico & Pereira 1993, que exibe o dativo –oi: Vanceroi. Esta forma, também admitida por Rodríguez Colmenero 2010, 136-137, afigura-se preferível a Danceroi, tradicionalmente veiculada, e, sobretudo, a Banceroi, de acordo com recente registo fotogramétrico apresentado em Pires et al. 2014, 140, fig. 7, a partir do qual é, porém, sugerida a última proposta em artigo conexo ( Santos et al. 2014, 445); a interpretação da pretendida forma Banceroi como plural de um étnico foi recentemente resgatada ( Dias & Santos 2017, 277), mas sem razoável sustentação crítica ao nível linguístico. Sobre a discussão do caráter execratório associado a inscrições públicas, Sánchez Natalías 2016.
- Rodríguez Colmenero et al. 2004, 782-783 e ss.
- Redentor 2017a, 237.
- Redentor 2017a, 172-173, 305-306 e 370.
- Pérez Losada 2002, 153-180 e 331.
- Encarnação 2019 considera, a este propósito, tratar-se apenas daquilo que designa como bilinguismo epigráfico, justificando que, para o lapicida, a dificuldade terá residido em simplesmente compreender e latinizar o que os indígenas porventura lhe transmitiram, negando, deste modo, estar-se perante textos bilingues, mas, ainda assim, considerando haver nesses textos um sinal político-cultural.
- Búa 2018, 40; De Tord Basterra 2024, 524.
- Cf. n. 9.
- Adams 2003, 415.
- As inscrições mais antigas no conuentus Bracarugustanus associam-se ao âmbito urbano e não serão anteriores às últimas décadas do século a. c. (Redentor 2017a, 750). Tal como ocorre no âmbito provincial lusitano, Estarán Tolosa 2019, 55.
- Beltrán Lloris 2011, 23-26; Búa 2018, 26.
- Beltrán Lloris 2011, 44-46.
- Chaniotis 2006.
- Búa 2018, 39.
- Cf. n. 73.
- Guerra 2020, 447.